16 nov 2022 Fonte: Revista da Plataforma Portuguesa das ONGD Temas: Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global

Este artigo foi originalmente publicado na Edição da Revista da Plataforma Portuguesa das ONGD de novembro de 2022 "Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global em Tempos de Mudança" Leia ou faça download da edição completa da Revista aqui.
Por Sérgio Xavier, Investigador Júnior/Doutorando - Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; Educador
“Isso é demasiado radical!”. Frequentemente deparo-me com esta afirmação, seja fora ou dentro do meu círculo de intimidade, seja em contextos mais ou menos formais, seja dirigida a mim próprio ou a outrém. A disciplinação social do pensamento radical está um pouco por todo o lado – na comunicação social, nas plataformas de redes sociais, nos contextos familiares, nos círculos de amizade, entre colegas de trabalho, no espaço público, ou nos espaços educacionais. O pensamento radical é socialmente disciplinado, por vezes de forma mais evidente e reprovadora, outras vezes de forma mais subtil, ou ambígua. Recentemente, após uma sessão em que me foi pedido para apresentar e discutir um artigo sobre Educação Radical1, uma das conferencistas, visivelmente satisfeita, congratula-me pela intervenção e deixa-me a nota de que uma das referências a que recorro frequentemente – Paulo Freire – seria para ela “por vezes, demasiado utópico”. O lugar era o Palácio da Europa, em Estrasburgo, a sede da instituição conhecida como uma importante guardiã dos valores e sonhos da democracia – o Conselho da Europa.
Comentários como estes estimulam sempre a minha reflexão. Não necessariamente pelo oxímero por detrás de uma pretensa escala sobre o que é mais ou menos radical, ou sobre o que é moderadamente ou demasiadamente utópico – nem tudo é mensurável com escalas, nem todas as medições são úteis. Mas pergunto-me: existe, ou não, espaço nas nossas democracias para a utopia Freiriana, em que a população toma consciência, denuncia e liberta-se das lógicas de opressão a que está sujeita? De onde vem esta ideia de que há coisas “demasiado radicais” para serem pensadas? Como é que o questionamento dos problemas pela sua raíz representa uma ameaça? E se o pensamento radical constitui uma ameaça, que esperança nos resta para entendermos – e solucionarmos – os problemas ditos estruturais, como o racismo, o patriarcado ou o vasto leque de desigualdades? Teremos mesmo desistido – estruturalmente – de resolver esses problemas? Que configuração e papel tem a educação na disciplinação social do pensamento radical?
De onde vem esta ideia de que há coisas “demasiado radicais” para serem pensadas? Como é que o questionamento dos problemas pela sua raíz representa uma ameaça?
A nossa história recente pode ajudar a responder a estas questões. Em reação aos ataques de 11 de Setembro de 2001, a maioria dos Estados democráticos iniciam uma convergência em redor da narrativa da "Guerra ao Terrorismo"2, originando um conjunto de excecionalidades3 alegadamente não previstas pelas sociedades liberal-democráticas. São desencadeados conflitos armados arbitrários, é implementada a maior operação de vigilância e perfilamento globais conhecida na história4 , são brutalmente intensificadas as medidas de segurança em espaços públicos e não-públicos, entre outras excepcionalidades. A excecionalidade do pós-11 de Setembro converteu-se na normalidade das democracias liberais, como a nossa.
No caso Europeu, o sinal definitivo da convergência na Guerra ao Terrorismo, também é precipitado por ataques, em particular o 11M, em 2004, em Madrid. A União Europeia desenvolve o primeiro dos pacotes políticos de combate ao Terrorismo5, que se sofisticaram até aos dias de hoje, mobilizando um conjunto de programas Europeus6 e criando o Centro Europeu de Luta contra o Terrorismo (2016). Seja na União Europeia, seja no Conselho da Europa, desenvolve-se a narrativa da prevenção da radicalização. Constitui-se um novo padrão para o trabalho no domínio da Juventude, bem como para as organizações que beneficiam de fundos europeus, como as ONGD. A prevenção da radicalização passa a integrar não só a agenda de prevenção do terrorismo em território europeu, mas também a resposta das democracias europeias ao crescimento dos movimentos de extrema-direita – que, só por si, mereceria um outro artigo. A palavra “radical” reforçou conotações com violência, extremismo, terrorismo, ameaça, ou irracionalidade. Em resumo, o que é “radical” tornou-se suspeito, reprovável e não-razoável. Gerou-se o preconceito contra o radical.
Só uma sociedade em que se possa pensar radicalmente pode ambicionar ser uma sociedade melhor, e portanto, uma sociedade diferente.
Se o estímulo ao pensamento radical na educação já se deparava com outras limitações próprias dos contextos liberal-democráticos, então adensou-se a sua escassez, por via de uma nova agenda - educar para a desradicalização. É subtraída mais uma dimensão ao já parco pensamento crítico existente dentro e fora dos espaços escolares. Inversamente à libertação da educação das amarras institucionais - como sugeria Ivan Illich em 19707 - a educação encontra-se institucionalmente alienada no projeto global de desradicalização da sociedade.
Só uma sociedade em que se possa pensar radicalmente pode ambicionar ser uma sociedade melhor, e portanto, uma sociedade diferente. Só uma educação que - em lugar de prevenir - promova o pensamento radical pode esperar, sequer, imaginar uma sociedade melhor. Até lá, estaremos permanentemente a aprender a agir como se estivessemos em satisfação, num ciclo de contínua reprodução do Fim da História8. Afirmar “isso é demasiado radical” é aceitar que não haverá mais história. É normalizar a maior facilidade em imaginar o fim do mundo devido ao capitalismo, do que em imaginar o fim do capitalismo . É impedir a utopia através da aceitação da distopia liberal-democrática: crises pós-pandémicas; aquecimento global; conflito armado eterno; inflação galopante. Cavalgamos estes imaginários distópicos sem saber muito bem o que nos está a acontecer. É agora, em 2022, mais fácil imaginar um armagedão nuclear, do que imaginar a desmilitarização global. Onde iremos parar? Estamos no Fim da História ou estaremos a preparar-nos para o fim da nossa história?
Notas:
1 Xavier, S. (2022). Radical Education: A pathway for new utopias and reimagining European democracies.
2 Cinco dias pós os ataques de 11 de Setembro, o então Presidente dos Estados Unidos da América – George W. Bush – usou a expressão “war on terrorism” (guerra ao terrorismo) durante uma conferência de imprensa, referindo-se à “cruzada” que seria “demorada” e que exigiria “paciência” à população estadudinense (White House, 2001a). A 20 de Setembro de 2001, durante uma sessão no Congresso Americano, foi usou uma expressão similar – “war on terror” (guerra ao terror) – referindo-se ao processo militar que “começaria junto da al Qaeda”, mas que “não terminaria até que todos os grupos terroristas de alcance global fossem derrotados e extintos” (White House, 2001b).
3 Agamben, G. (2004). State of Exception.
4 Lyon, D. (2015). Surveillance After Snowden.
5 A primeira destas iniciativas foi a Estratégia Europeia acerca da Radicalização Violenta (2005).
6 Como nas áreas da Juventude, Cultura, Cidadania e Aprendizagem ao Longo da Vida.
7 Illich, I. (1970). Deschooling Society.
8 Após a queda do Muro de Berlim em 1989, Francis Fukuyama declara que a humanidade havia chegado ao “Fim da História”, em que as democracias liberais seriam a última forma de governo e de ideologia (Fukuyama, 1989). Esta ideia foi amplamente celebrada e encontra-se hegemonicamente enraizada nas democracias contemporâneas.
9 Ideia atribuída a Fredric Jameson e Slavoj Žižek.
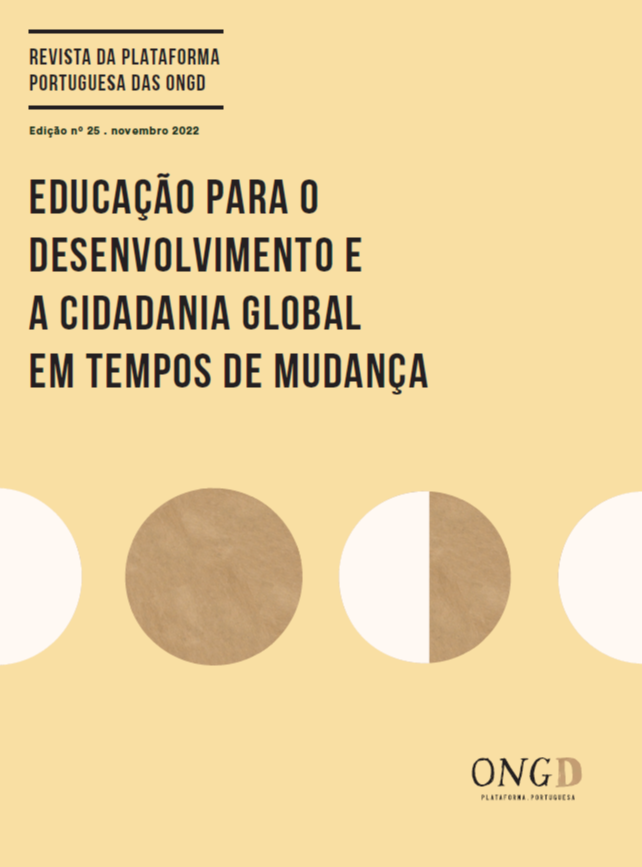
Este artigo foi originalmente publicado na Edição da Revista da Plataforma Portuguesa das ONGD de novembro de 2022 "Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global em Tempos de Mudança". Leia ou faça download da edição completa da Revista aqui.
